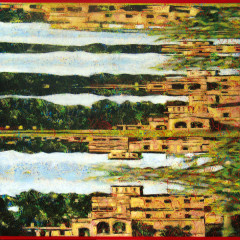Ruinas idílicas - idílios arruinados
Novalis: “Dotando o trivial de um significado sublime, dando ao habitual um aspecto misterioso, ao conhecido a dignidade do desconhecido, ao finito uma aparência de infinito, romantizo-o.”
O título desta série, “Ruinas idílicas - idílios arruinados”, abrange a contradição implícita em qualquer trabalho que se aproxima do romântico. Qualquer aproximação ao romantismo é uma perda de realidade. Esta perda é intencional, pondo em dúvida a legitimidade exclusiva dos factos empiricamente prováveis.
Transcendendo o acto de uma destruição, as ruinas são um símbolo, sendo já por si só românticas, uma vez que apontam de uma maneira frapante para uma difusa existência anterior, para um passado não palpável. Não se trata simplesmente de pedras e de outros materiais que transmitem um significado mas intervêm, pelo contrário, também aí a nossa imaginação, as projecções da nossa fantasia e dos nossos conhecimentos sobre o acto de destruição em si e, consequentemente, as suas causas.
Na própria época do romantismo, a ruina era um símbolo da ligação (destruída) aos idílicos tempos remotos, ao idílio de uma unidade religiosa e profana que, na realidade, nunca tinha existido. Era simultaneamente um símbolo da percepção do isolamento e da liberdade do “eu”. Uma pessoa afastada de uma unidade que nunca existiu, assemelha-se a um torso, a um “destroço” humano, a uma ruina. Nem o futuro nem o passado prometem a salvação. Assim, ela está na praia, como um monje, olhando para a escuridão, bem longe do americano “persuite of happiness”!
O edifício dos anos 50, que é demolido nos dias de hoje com o consentimento de todos, não se adequa a uma contemplação simbólica deste género. Desaparece, e nada lhe confere mais tarde um significada sublime ou um mistério, um horror ou uma dignidade.
Quantas ruinas vi eu, quantas tive necessidade de ver ou simplesmente quis ver? Não cresci no Osnabrück no meio de ruinas, mas pude vê-las diariamente. 66% da cidade foi destruida, nada no entanto, se compararmos a Berlim, Dresden ou Hamburgo. Os meus primeiros sentimentos em relação às ruinas foram ambíguos. Cobertas por ervas pareciam, por um lado, apontar para tempos remotos mas, por outro lado, o acto que as originou, a destruição, era ainda muito presente em todas as narrações dos adultos. Também elas se encontravam numa escuridão ambígua e negra. Como as aberturas desventradas das janelas. Alguma coisa me forçava para a necessidade de não as ver. Cada ruina desaparecida produzia um suspiro de alívio e, simultaneamente, o desejo de as ver desaparecer todas. Era como se a aspiração do regresso à normalidade, por parte dos adultos, se tivesse também apoderado da minha pessoa. Mais valia uma parede lisa de tijolos com janelas quadradas, do que tufos de erva em cima de um montão de pedras amarelas.
Durante muito tempo, a praça do mercado de Osnabrück, com a Câmara Municipal do gótico tardio e a igreja gótica de Santa Maria, tinha sido orlada só pelas fachadas de antigas casas de frontão escalonado. Estas, com as aberturas das suas janelas, delineavam-se da claridade do céu, como as aldeias de Potemkin. Eu conhecia a causa da destruição, sem que no entanto a conseguisse perceber. Um dia, uma dessas fachadas caíu, enterrando consigo um comerciante de ferro-velho que procurava tubagens de chumbo velhas. Imediatamente a seguir a esse acontecimento começou a reconstrução desta fila de casas. Na minha precipitação, eu tentava relacionar estes dois eventos como sendo a causa e a consequência de um só acontecimento.
Potemkin, o amante de Catarina Romanow, poder-nos-ia explicar o modo como estas percepções das realidade se eternizam. As suas aldeias existiam e existem por toda parte, não só na Rússia do seu tempo. As últimas que vi encontram-se no deserto marroquino e foram preparados para o rei Hassan II.
Desde então, a minha percepção em relação à herança do passado ficou de alerta: o que é que teria ali existido, o que se iria ali construir? Pouco a pouco as ruinas, como factor perturbante, desapareceram. Nos lugares onde não tinham sido substituidas por novos prédios, “um aborrecimento em tijolos”, “monotonia de tijolos” em dinamarquês - realizadas, significativamente, pela instituição da “Nova Pátria”, a cidade cicatrizava por meio de “quiosques” de um andar e lojas feitas de tábuas de madeira. Ainda hoje se descobre em cada grande cidade alemã esta herança do passado: espaços vazios abruptos, paredes corta-fogo, ruas que se assemelham a dentaduras esburacadas.
Mudança de cena: entramos no campo de ruinas do Forum Romanum. A perspectiva agora é outra. Em todos os livros que nos são apresentados lemos que estas ruinas são testemunhos de uma grandeza passada e não o resultado de uma megalomania originada por sua própria culpa. É um respeito inato, ou foi-me inspirado pelos livros, viajantes e historiadores? Não o sei. Em todo o caso, as ruinas têm um aspecto resplandescente, e isto não é só devido ao sol mediterrânico. Desde Trier até à Europa do sul, Itália, da Grécia ao México e em muitos lugares que só conheço de fotografias: por toda parte encontramos ruinas, protegidas, consolidadas, polidas pela corrente dos grupos de visitantes. Como no caso do dedo do pé da Pietà na igreja de São Pedro no Vaticano! Só com muita dificuldade se forma a capacidade imaginativa de meditar sobre os tempos passados, sobre grandes impérios e o seu poder, a sua extensão e função, a sua vida quotidiana, sobre a barbárie “gótica”, sobre a vida mais de milenar nas ruinas de Roma, sobre os vândalos e as erupções vulcânicas. Ou quase desfalecemos sob um sol tórrido ou o parque irá fechar nesse momento! A fantasia é paralisada pelos “percursos didácticos” ou pela presença real dos pacotes de batatas fritas ou de gelados que esvoaçam em redor.
As mais intensas vivências que alguma vez tive em ruinas foi em Berlim, nos anos 70 e também nos 80. Não sei por que razões, mas, de repente, o meu olhar para as ruinas deixou de estar bloqueado. Na Alemanha Ocidental já não havia ruinas, mas em Berlim elas continuavam a existir, perdendo pouco a pouco o seu carácter ameaçador da derrota, derrota esta que os próprios alemães originaram.
Também nesta época, os campos de ruinas clássicas foram vedados, transformando-se então em “jardins zoológicos” de pedras caras. Tornaram-se insuportáveis. Já não existiam as “dicas” preciosas, como por exemplo o “Parco di Mostri” de Bomarzo, que sendo de acesso livre, se encontrava de tal modo escondido nas montanhas que dificilmente seria descoberto. É certo que este não faz parte dos campos de ruinas clássicas sendo, pelo contrário, um “típico jardim privado, uma Arcádia intelectual provocando calafrios estéticos” (G.R. Hocke) criado em 1552 por encomenda de Vicino Orsini, mas encontrava-se abandonado, escondido, numa só palavra: arruinado. Resistia à tentativa de ser compreendido e o acto de perceber o seu maneirismo tinha de ser realizado pelo próprio visitante. Hoje, paga-se 8 € pela entrada e por um mapa dos percursos.
Eu fui um visitante de ruinas. O facto de uma grande área de Berlim Ocidental pertencer à Deutsche Reichsbahn, isto é, à ex-RDA, favorecia este meu desejo. Era uma “terra de ninguém”, aí nenhum polícia tinha um “direito de soberania”, nem nenhum proprietário nos podia expulsar.
As vias férreas na estação de Potsdam e de Anhalt, a velha estação de Hamburgo (ver a figura em baixo), por exemplo, eram fontes de achados imaginativas. Lembro-me de uma escada que descia para uma área vazia onde, no supé da mesma, jaziam dois enormes leões (ver a figura em cima) que hoje se encontram, limpos e todos arranjadinhos, no Museu dos Transportes . Lembro-me de uma faixa de terreno, perto do lugar onde o Potsdamer Platz faz esquina com a Leipziger Straße, e que pertencia a Berlim-Leste. O Muro cortou esta pequena faixa, deixando-a desaproveitada, no Oeste. Aí se encontrava a ruina da antiga grande sala de dança “Haus Vaterland”. As salas interiores estavam, em parte, relativamente intactas, no entanto, completamente vazias. Apenas se podiam observar os sumptuosos mosaicos dos salões, do banho turco etc.
Lembro o edifício de Gropius, cujas janelas estavam tapadas com tijolos, como se vê hoje em dia frequentemente também na Baixa de Lisboa. Havia aí uma abertura no rés-do-chão que, em certa altura, se tinha alargado de tal maneira que era possível passar, com alguma dificuldade, é certo, e entrar no prédio. Dois anos mais tarde, o desenfreado “espírito do tempo” ocupou o edifício provisoriamente restaurado, organizou-se uma primeira exposição, à qual se seguiríam muitas outras. Hoje, os arquitectos orgulham-se de ter deixado algures, parte da cobertura de parede do tempo antigo.
Eu sei, eu sei, o passado é passado. A discrepância está patente. Acabei de confirmar por meio da Internet, em segundos, que o Parco di Mostri foi de facto construido no século XVI. Aprecio esta rapidez. No entanto, sinto por vezes a ausência do esforço para obter informações e falta-me às vezes o fabular, o especulativo que nasce quando não se nos apresenta, imediatamente ao premir uma tecla, a solução certa.